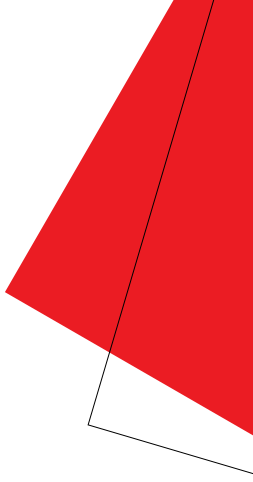Dia do Orgulho LGBT+: data para comemorar ou para reivindicar?
NoticiasNesta quinta-feira (28) é comemorado o Dia do Orgulho LGBT+ (lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e outros grupos minorizados). A data marca um episódio ocorrido em Nova York, em 1969, quando frequentadores do bar Stonewall Inn reagiram a uma série de batidas policiais realizadas com frequência no local, motivadas pela intolerância. No ano seguinte, o 28 de junho foi escolhido para ser o dia da primeira parada gay dos Estados Unidos, que inspirou outras mundo afora – e a data ficou conhecida como dia de luta contra o preconceito.
As conquistas da população LGBT+ são inegáveis no Brasil. Hoje, casais homossexuais podem oficializar a união no civil e adotar filhos, trabalhadores podem estender seus benefícios previdenciários e de plano de saúde aos seus cônjuges, transexuais podem mudar o nome no cartório sem a obrigação de terem passado por cirurgia de adequação sexual ou recebido autorização judicial, além de usar o nome social na Educação Básica. E desde a semana passada, o manual de doenças psiquiátricas mais importante do mundo não vê transgêneros como pessoas com problemas mentais.
Mas em que pontos ainda é preciso avançar? GaúchaZH consultou representantes da comunidade em cinco segmentos e questionou: o Dia do Orgulho LGBT+ é para celebrar ou para lutar? Confira as respostas.
JUDICIÁRIO
Renan Quinalha, 32 anos, advogado, ativista e professor de Direito da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp)
«Há uma série de avanços e conquistas fundamentais, como o casamento civil e a autorização para que pessoas trans mudem prenome e classificação de gênero no cartório sem necessidade de cirurgia e de autorização judicial. Há conquistas de visibilidade, como termos, em São Paulo, a maior parada do orgulho LGBT do mundo, e a tendência de mudança de tratamento na mídia, que 40 anos atrás só retratava o homossexual quando ele praticava ou era vítima de um crime. Do ponto de vista institucional, temos políticas públicas feitas pelo Estado e a presença de pastas ou coordenadorias que lutam pela população LGBT na União, em Estado e em municípios – uma diferença em relação à década de 1980, quando a ditadura brasileira tinha uma visão homofóbica.
Por mais que haja limites das políticas públicas, que são tímidas e dependem dos acordos e de bancadas fundamentalistas, é relevante notar que haja presença muito maior hoje. Ainda há a ação no Supremo questionando a constitucionalidade de normas da Anvisa e do Ministério da Saúde que proíbem homens que fazem sexo com homens de doar sangue, com parecer favorável da Procuradoria-Geral da República. Mas as conquistas do movimento LGBT das últimas quatro décadas provocaram uma reação muito forte de setores conservadores do Brasil, sobretudo religiosos, que têm feito pressão política crescente nos últimos anos. É um momento de atenção, porque é uma reação para impedir novos avanços e retroceder o que fizemos em geral via Judiciário. Aliás, nos últimos 40 anos, não tivemos no Congresso Nacional uma única lei aprovada beneficiando a população LGBT.
Conseguir avanços pelo Judiciário é precário porque você fica refém dele: tem que esperar ele pautar o processo e, se alguém pedir vistas, há uma demora. O Supremo cumpre um papel importante quando reconhece os direitos da união homoafetiva e do casamento civil e da identidade de gênero das trans. E é natural que os tribunais assumam certo protagonismo ao defenderem questões centrais da democracia, ainda mais se o Legislativo não decide por falta de representatividade. Mas é muito mais simples mudar uma decisão judicial do que uma lei aprovada no Parlamento, pois, se você altera a composição do Supremo, o entendimento pode mudar. Além disso, o STF tem decidido mais para atender à pressão pública do que à lei, e aí há o risco de surgirem soluções casuísticas.
O Brasil ainda é um dos países que mais mata LGBTs no mundo, e isso é muito grave e exige respostas imediatas e urgentes. Precisamos combater a violência e ter políticas públicas mais efetivas, com maior investimento de recursos. A violência não é mais institucionalizada, mas as políticas públicas são frágeis, porque não há respaldo legislativo e porque há violência social contra LGBTs. A criminalização da LGBTfobia é necessária, mas deve ser provisória, pois também não é a melhor solução por reforçar o estado penal, e sabemos que o sistema carcerário brasileiro é inchado e não ressocializa ninguém. É preciso adotar medidas mais estruturais, como impedir o avanço de leis como Escola Sem Partido vigorem no sistema educacional. A garantia de direitos de diversidade não é problema de grupos específicos, mas diz respeito à democracia, à alteridade, à construção de valores coletivos em que todos possam participar do processo de cidadania.»
EDUCAÇÃO
Marina Reidel, 47 anos, mestra em educação, professora trans e diretora de Promoção de Direitos LGBT do Ministério dos Direitos Humanos
«É para os dois. Nesses 39 anos de luta, avançamos muito em várias questões – não só na educação, mas também no Judiciário, com o casamento de pessoas do mesmo sexo, a adoção e agora a decisão de reconhecer registro de prenome de travestis e transexuais sem a cirurgia de adequação. Há também avanços na política pública, com editais para pensar em fomento de projetos. Aqui, no Ministério dos Direitos Humanos, abrimos edital para pensar a violência contra população LGBT. E, na educação, tivemos o avanço do uso do nome social nas escolas (homologada pelo governo federal em janeiro de 2018) e a nível federal, em universidades (estudantes e servidores podem adotá-lo desde 2016). Mas tivemos a onda conservadora que retirou de muitos planos estaduais e municipais de educação a menção a sexualidade e a gênero nas escolas. Isso é um equívoco, você não ensina ninguém a ser nada, você mostra as possibilidades que as pessoas podem ter.
Nas escolas por onde eu passei, nunca tive problemas com alunos, a maior dificuldade era fazer colegas professores ou adultos reconhecerem essa identidade. No meu mestrado, vi em entrevistas que minhas colegas professoras eram unânimes em dizer que os problemas eram os seus pares, não os alunos. Ainda não nos preparamos, enquanto professores, para uma escola de diversidade em orientação sexual, religião e na família. Houve o surgimento do termo «ideologia de gênero», por exemplo, que é uma falácia. E há um cenário de violência muito forte para a população de travestis e transexuais, o que tem reflexo forte na violência. Hoje, quase 90% da população de travestis e transexuais recorre à prostituição como único mercado de trabalho. Se você sofreu exclusão na escola, na família e nos espaços públicos, não avançará nos estudos e acabará no único lugar culturalmente dito onde deveria estar: a calçada. Precisamos de políticas afirmativas para esse segmento.
A educação ainda é um foco que precisa ter mais políticas públicas voltadas para a temática LGBT. Precisamos enfrentar essa questão conservadora que temos vivido nos últimos anos. A escola precisa ser respeitada enquanto espaço democrático, precisa sair do século passado e se tornar mais humana. Necessitamos dos mesmos direitos que qualquer cidadão, como o direito à liberdade de viver e à própria vida, que muitas vezes é negada quando somos mortos.»
TRABALHO
Filipe Roloff, 28 anos, líder do Pride (grupo de inclusão) no Brasil da empresa de tecnologia SAP e eleito pelo Financial Times um dos 50 futuros líderes LGBT’s mais importantes do mundo
«Esse dia é para celebrar o que conquistamos até agora em diferentes países no mundo e em diferentes níveis, principalmente no Brasil pelos últimos anos, desde que houve a criação do Fórum de Empresas e Direitos LGBT+ (grupo de empresas criado em 2013 que se compromete a metas de diversidade). Há bastante desenvolvimento na área de gestão e de inclusão nas empresas. Neste ano, vejo uma grande massa de empresas comemorando o Dia do Orgulho LGBT+.
No Brasil, o maior avanço a ser comemorado é o entendimento, nas empresas, de como a diversidade e a inclusão são importantes e podem ser um diferencial positivo. Isso não é só como uma conquista de direitos humanos, mas também uma conquista em escala estratégica, porque se entende que podemos fazer o certo e que o certo pode trazer resultado. Empresas estão começando a se posicionar de maneira sustentável em relação às pessoas como já se posicionaram quanto à ecologia. Como as novas gerações começam a exigir ambientes mais seguros, as empresas começam a criar produtos e serviços alinhados a essas exigências.
Ao mesmo tempo, não podemos esquecer que celebramos porque há muito para melhorar ainda. Em especial, no que diz respeito à equidade de direitos da população LGBT em relação ao resto da população e às pessoas terem um ambiente seguro para viverem – dentro e fora da empresa. Quando proporcionamos um ambiente mais seguro, não só deixamos os colaboradores mais felizes como eles passam a levar esse ambiente de diversidade para seus amigos e família. Com isso, também passam a tomar mais riscos, porque sentem que, se errarem, terão suporte. Isso gera empresas mais sustentáveis, onde as pessoas aprendem, são incluídas, e o lucro adquirido é sustentável e será usado para trazer benefícios a essas pessoas.
No Brasil, o trabalho de diversidade é feito basicamente no eixo Rio-São Paulo e, em parte, no Sul. O avanço a ser feito é levar essa mentalidade de diversidade e inclusão para outros Estados e cidades, além de atrair mais empresas nacionais, fazendo-a entender a importância da inclusão da diversidade nas organizações. Elas ficarão para trás se não falarem esse idioma. Estou em São Paulo para o lançamento, no Brasil, do código de conduta das empresas com relação à população LGBT. Todas as empresas nacionais que tiverem interesse em dar apoio a essa campanha podem se informar e apoiá-la. Esse é um sinal de alinhamento internacional do Brasil que revela que as organizações estão se dando conta de que somos um país capaz de gerar engajamento forte na inclusão LGBT. Mas ainda temos muito o que fazer, somos o país que mais mata LGBTs no mundo.»
ESPORTE
Rogério Dervanoski, 29 anos, presidente do PampaCats, equipe poliesportiva LGBT de Porto Alegre
«No futebol, há o que comemorar: existe um movimento de criação de novos times LGBT pelo Brasil, com cerca de 30 times de diferentes modalidades. Dois anos atrás, não havia tantos. Agora, o PampaCats recebeu apoio da prefeitura e do governo do Estado, que nos cederam espaço para jogarmos. Mas vivemos numa grande bolha. Hoje, não há um jogador assumidamente gay em um time brasileiro de futebol. Isso demonstra o quanto é preciso lutar para mostrar nossa voz.
Podemos jogar qualquer modalidade e sermos quem quisermos ser, sem a necessidade de formar redutos para jogar. Sempre falamos não queremos ficar excluídos, queremos jogar com todos. Mas primeiro temos que ser vistos e mostrarmos que podemos jogar para depois jogarmos com todos. E queremos que isso seja rápido e leve, queremos ir a estádios. Quando a diversidade estiver em todos os espaços, essas discussões vão acabar. Queremos ser quem quisermos independentemente da orientação sexual.
Hoje, se assumir é perder espaço, ser martirizado, perder patrocínio e ver a torcida cair em cima. No futebol profissional, se você jogar mal é porque você é gay. O jogador gay é condenado apenas por ser gay. Esse movimento de ter times LGBT é para mostrar que é possível ter jogadores e bons jogadores. A pessoa pode ser quem ela quer jogando bem ou mal. O Richarlyson, quando foi para o Guarani, picharam o muro do clube e pediram pra trocar a diretoria. Mesmo ele jogando bem, a pressão popular era tão grande que ele não conseguia viver a vida dele. E olha que ele nunca disse ser gay, as pessoas é que diziam.»
COMPORTAMENTO
Marisa Fernandes, 65 anos, militante lésbica feminista desde 1979, mestre em História Social pela USP e integrante do Coletivo de Feministas Lésbicas
«Temos que celebrar porque foi uma reivindicação vitoriosa pelo direito de ser e de estar. Mas desde Stonewall e, focando no Brasil, desde 1978, quando surgiu o grupo Somos (considerado o primeiro grupo do Brasil a lutar pelos direitos da comunidade), temos que lutar muito. Nossa condição ainda é negada em famílias e religiões. Temos que lutar pelo direito de permanecer vivo e de não ser morto por crime de ódio. Duas lutas garantem nossa vida enquanto cidadãos: criminalizar a homolesbotransfobia e a assegurar a presença de campanhas contra essas atitudes. Podemos casar? Sim. Podemos morrer na primeira esquina por crime de ódio e esse crime continuar impune? Sim.
No Brasil, com todo o retrocesso político que temos depois do golpe de 2016, com um avanço terrível de fundamentalismos e de bancadas muito conservadoras, vivemos em um momento muito perigoso. Quando eu falo em direito à vida é porque o Brasil é o país que mais mata transgêneros no mundo. E mata muitos gays, lésbicas e bissexuais. Houve muitas conquistas, mas avanços ficaram no papel. Desde 2004, quando foi feito o Programa Nacional Brasil sem Homofobia, cobrindo cultura, saúde, educação, esporte etc, muita coisa ficou no papel. Um plano de saúde nacional para LGBTs, por exemplo, ficou no papel. Nenhuma lésbica entra em um consultório de ginecologista e fica sem passar por constrangimento. E houve retrocessos, como o aumento do crime de ódio, a retirada do plano de educação a discussão sobre orientação sexual e gênero. É por ouvir e debater que você combate crime de ódio, não é uma lei sozinha que combate. E nunca o feminicídio cresceu tanto.
Neste ano, a transexualidade foi retirada da Classificação Internacional de Doenças (CID – sistema que norteia a prática médica no mundo todo). Antes, era preciso consultar por dois anos com psiquiatra e receber laudos até fazer cirurgia. Agora, você não é transtornado, é apenas transexual. Mas temos que reivindicar sempre. Sou ativista desde 1979, em um ativismo feito dentro de uma ditadura militar. Hoje, as redes nacionais de lésbicas e gays têm uma institucionalização grande. O movimento tem porta-vozes hoje que vão a Brasília, fazem negociações e pressões. Mas a questão do envelhecimento de LGBTs nem se discute. Uma grande parcela de pessoas é expulsa de casa quando jovem, vive sem a família há «trocentos» anos, ganha menos ao longo da vida se é mulher ou trabalha sem contribuir para a Previdência se é travesti ou transexual, que em sua maioria precisa trabalhar como profissional do sexo. Quem vai te acolher na aposentadoria?
Que houve uma evolução ao longo dos anos para os LGBTs, houve. Em 1979, nós éramos invisibilizados – não o afeto, mas a nossa própria existência era negada por psiquiatras, que diziam que mulheres feias viravam lésbicas porque não eram desejadas pelos homens, e pela imprensa marrom, que ligava LGBTs à criminalidade. Há um avanço em andar na rua de mãos dadas ou abraçado, mas ainda há muita violência. Beijo na boca é quase como pedir para, no mínimo, ser ofendido e, no máximo, ser espancado. No dia da Parada do Orgulho LGBT+, enchem-se os vagões de metrô e de trem, é tudo lindo. Mas, se escureceu e você ainda está animadinho pela rua, tem que olhar para trás e tomar cuidado. LGBTs passam nas novelas? Passam. As pessoas falam que seus filhos não podem ver um beijo gay? Falam. Enquanto isso, podem assistir a mulheres sendo violentadas ou ver a mãe sendo espancada pelo pai. Está mais “sussa”, mas avançamos pouquíssimo.»
MARCEL HARTMANN
GAÚCHAZH